Meses após as águas invadirem cidades, casas e histórias no Rio Grande do Sul, os sinais da tragédia seguem impressos em Porto Alegre e na vida de milhares de pessoas ainda desalojadas. Em Inundadas, a historiadora e escritora Renata Dal Sasso mergulha nessas camadas de destruição, memória e omissão, transformando a enchente de 2024 em ensaio crítico sobre como ocupamos, e esquecemos, os territórios.
Lançado no fim de junho pela editora Machado, o livro nasceu da urgência de narrar o trauma coletivo a partir de uma escuta histórica e sensível. Em entrevista ao Brasil de Fato RS, Renata conta que a escrita começou em sua newsletter semanal, ainda durante os dias da enchente. “Maio de 2024 não foi um fato isolado. Já vínhamos enfrentando extremos climáticos desde o segundo semestre de 2023. E Porto Alegre, como mostra o projeto ‘Mais História, Por Favor’, já inundou muitas vezes antes, mais do que sabíamos”, relata.
Mais do que documentar o presente, Inundadas tensiona apagamentos históricos e desconstrói a ideia de que desastres são acidentes naturais inesperados. “Não é só um livro sobre a enchente. É sobre ser chamada a conhecer minha cidade e estado por conta desse evento”, afirma a autora.


Abaixo a entrevista completa.
Brasil de Fato RS: Você escreveu Inundadas logo após uma tragédia recente. O que motivou a transformação desse evento em livro e qual memória ele busca preservar? Há narrativas sobre as enchentes de 2024 que estão sendo apagadas? Existe um esforço coletivo de esquecimento?
Renata Dal Sasso: Tenho uma newsletter semanal desde 2023 em que escrevo pequenos ensaios a respeito de coisas que estão me inquietando no momento, principalmente como professora de história. Nas semanas da enchente, acabei naturalmente abordando o assunto, e o Maikel Silveira, da editora Machado, me convidou para escrever um ensaio mais longo. O que pensei inicialmente foi em abordar o fato de que maio de 2024 não foi algo isolado. Já vínhamos vivendo extremos climáticos desde o segundo semestre de 2023.
No Twitter, através de um projeto de colegas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) chamado “Mais História, Por Favor”, vi que na verdade Porto Alegre e o resto do estado já tinham inundado muito mais vezes do que nós sabíamos. Então, não é um livro só sobre maio de 2024, mas sobre ser chamada a conhecer minha própria cidade e estado por conta desse evento.
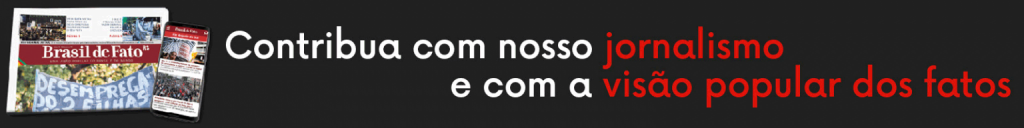
É muito difícil falar de apagamento quando ainda ficamos todos tensos por causa de qualquer previsão de chuva e quando, em junho, tivemos cheia de rios novamente. Muita gente teve de sair de suas casas nos últimos dias, minha irmã, inclusive, e pelo menos nos meios independentes, a falta de providências para remediar a situação de alguns bairros tem tido cobertura.
Há vários projetos que rememoram a experiência da enchente. Isso sem falar no fato de que, no evento agora do final de junho, a prefeitura teve de fechar as comportas do Guaíba com sacos de argila, porque o dique original não foi totalmente consertado.
É muito difícil falar de apagamento quando ainda ficamos todos tensos por causa de qualquer previsão de chuva
O que está acontecendo, sim, é a configuração desse evento em distintos enredos a partir do poder público, de modo a lidar com a responsabilidade de quem estava a cargo dele.
Você aborda o território como algo vivo que exige escuta. Que tipo de escuta falta na relação entre sociedade e natureza, especialmente na região Sul do Brasil?
Acho que essa escuta não se resume a uma chave entre sociedade e natureza, mas num tripé que envolve o passado. Parece que estou “puxando a brasa para meu assado”, mas tendemos a nos mudar entre bairros ou mesmo de cidade sem saber o que ou quem andou ali antes de nós. E não falo só de comparar fotos antigas com como são os lugares no presente, o que se vê muito no Instagram, mas sim a razão das cidades serem como são, porque se modificaram.
E aí entra a questão disso que chamamos natureza, da qual só nos queremos apartados. No Sul do Brasil essa relação com a natureza (por exemplo, o frio) e o passado esbarra em um monte de discursos, mais publicitários do que acadêmicos, que se tornaram senso comum e que tem uma ênfase na imigração europeia, muito parecido com o que ocorre na Argentina e no Uruguai. Isso se reflete na forma com que ocupamos o espaço também.
Como historiadora, qual a relação entre a ocupação dos territórios no Sul e os impactos da crise climática? De que forma Inundadas dialoga com a história tradicional e os silêncios que ela reproduz?
Quando fui ler e reler a historiografia sobre a cidade para escrever o livro, estava procurando as enchentes e vi que elas não eram um problema central para aqueles historiadores, talvez porque todos nós (e digo não só os historiadores) não estivéssemos com a questão tão premente. Da mesma forma que as pessoas estão revendo guerras civis e fluxos migratórios em outros períodos históricos, como por exemplo a Antiguidade, sob prisma de epidemias e mudanças climáticas.
As intervenções urbanas, pelo menos em Porto Alegre, foram em grande parte para lidar com alagamentos, inclusive incorrendo no que hoje chamamos racismo ambiental
Nós nunca escrevemos história pensando só no passado, então é normal que se passem a enxergar outros aspectos, inclusive questões de raça e gênero, na medida em que essas demandas vão sendo incorporadas ou essas coisas aparecem diante de nós. As pessoas querem se reconhecer e reconhecer suas experiências na História, afinal de contas.
No caso do livro, as intervenções urbanas, pelo menos em Porto Alegre, foram em grande parte para lidar com alagamentos, inclusive incorrendo no que hoje chamamos racismo ambiental, com a criação do território da Ilhota e a posterior remoção de sua população para o bairro da Restinga. Mas sobre isso não há exatamente silêncio. São espaços que sempre tiveram vozes muito ativas politicamente, é um processo amplamente documentado em trabalhos acadêmicos. O que sim se tinha antes era a percepção de que a enchente de 1941 tinha sido um incidente fora do comum e que talvez nunca fosse mais acontecer.
Eu, pessoalmente, não sabia que ela foi um extremo entre várias outras inundações, algumas que duraram períodos de meses. A enchente de 1941 é tão abordada pela historiografia da cidade que nem quis escrever sobre ela no livro.

Qual o papel do Estado e das políticas públicas na construção ou destruição da memória coletiva desses desastres?
Uma resposta óbvia seria dizer “implementar medidas para não deixar que algo assim se repita”, mas isso seria reeditar uma pedagogia política que, no meu entender, está demonstrando que falhou de modo geral nos últimos anos. Do contrário, a democracia não teria se tornado uma pauta “de esquerda” e não teria gente ativamente defendendo as ditaduras militares ou até mesmo o nazifascismo.
Nossa dessensibilização em geral para o que acontece, o exemplo de Gaza é um, mas poderíamos pensar na violência no Brasil de modo geral, me deixa em dúvidas sobre que estratégias deveríamos adotar, que precisam ser diferentes daquelas que foram implementadas para lidar com os grandes traumas do século XX, que já fizeram água. Afinal de contas, estamos todos os dias cercados de signos de memória, mas nem sempre damos bola, normalizamos muita coisa.
Escrever, e aí pode ser literatura, pode ser história, é só dar sentido a algo que aconteceu
Meses depois da inundação, com as paredes dos prédios do centro da cidade ainda manchadas, o prefeito de Porto Alegre disse que a cidade ia continuar alagando, como se o que vivemos não importasse. A questão não é nem a construção ou destruição de uma memória. A questão é se alguém, e principalmente o poder público, de fato se importa com memórias que são, sim, construídas. Pode ser com relação a um genocídio, pode ser com uma enchente.
Como a escrita literária pode contribuir para o debate sobre justiça climática e reconstrução? O que Inundadas espera provocar nos leitores e é possível gerar novas formas de responsabilidade a partir da dor coletiva?
Escrever, e aí pode ser literatura, pode ser história, é só dar sentido a algo que aconteceu. Mas esse só é algo que abre justamente a possibilidade de pensar no nosso quinhão no estado atual das coisas, quem somos, quais são nossos privilégios, como viemos parar onde estamos.
Escrevi Inundadas para entender os lugares onde moro, por onde transito e de onde vim, com a intenção de gerar o mesmo tipo de curiosidade nos leitores. Quis contribuir para tornar a enchente inteligível, digamos assim, dentro da historicidade desse lugar. Algo que aconteceu conosco (e isso envolve nossa participação ativa nela) e não que só desabou sobre nós.

O post Livro ‘Inundadas’ resgata memória e crítica histórica sobre a tragédia climática no RS apareceu primeiro em Brasil de Fato.




